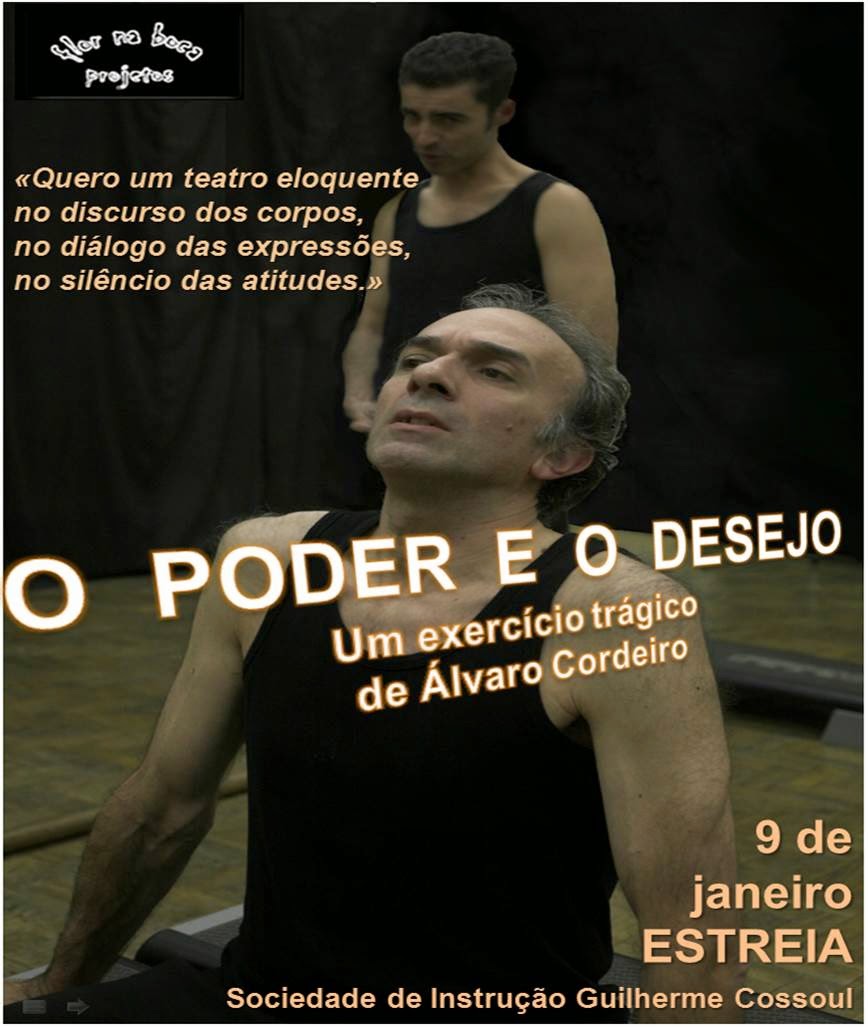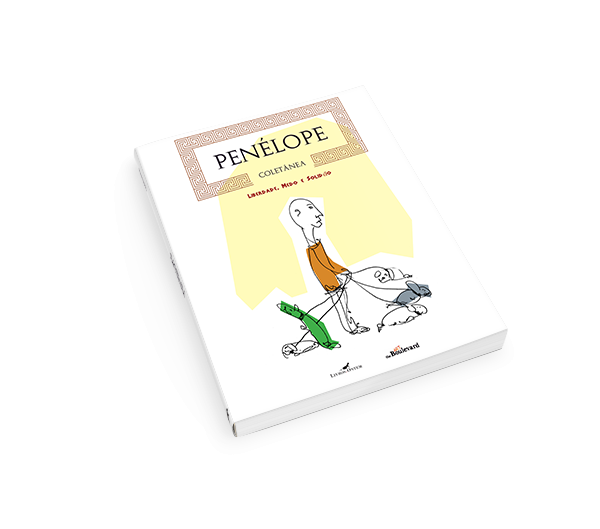Neste final de ano, partilho duas magníficas canções daquele que considero o maior representante da verdadeira música portuguesa.
Que o modo genuíno e profundo como Fausto nos diz em toda a nossa grandeza e fragilidade nos inspire a sermos mais portugueses e mais alegres neste país cada vez mais triste e cada vez menos nosso.
Feliz Ano Novo! Feliz Portugal!
terça-feira, 30 de dezembro de 2014
domingo, 28 de dezembro de 2014
Texto trigésimo sétimo
Teatro.
Observar e observar-se no conflito diário das
vontades entrechocadas, atravessar o tiroteio das paixões para que nunca se
está preparado. Apesar dos ensaios. E sofrer com isso.
Teatro.
Ter a coragem de deixar-se observar, para que o
público se veja a si mesmo. Sentir para dar a sentir o que se sente, comunicar
para absorver, partilhar para encher-se, esgotar-se numa doação que busca a
plenitude. E gostar disso.
Teatro.
A construção de uma realidade teatral, verdade
possível nas mentiras de que se é capaz. Não há exibição, apenas a confissão
humilde de quem vê a vida de outra forma. E sofre com isso. E gosta. Não de
sofrer, mas disso.
quarta-feira, 24 de dezembro de 2014
Feliz Natal!
Natal.
Festa do Encontro.
Encontro de Deus com o homem.
Encontro do homem com o divino em si.
Encontro do homem com o Outro, divinização da sua precária existência.
Origem e destino. Sentido. Transcendência.
Feliz Natal!
Festa do Encontro.
Encontro de Deus com o homem.
Encontro do homem com o divino em si.
Encontro do homem com o Outro, divinização da sua precária existência.
Origem e destino. Sentido. Transcendência.
Feliz Natal!
sábado, 20 de dezembro de 2014
Texto trigésimo sexto
Escrevi
O Poder e o Desejo em busca da
Palavra. Não por tê-la encontrado e pretender traduzi-la, verter o seu bálsamo
purificador em qualquer suposta ânfora das urgências da atualidade. Antes como uma
procura primigénia: perseguir uma origem como quem vasculha nos astros a
leitura de um rumo; alinhar as frases no gesto de deitar os pés ao caminho. À
procura de um ponto de partida. A Palavra.
Fui
ao encontro de um profeta ultrapassado pela verdade que o habita; esbarrei
contra um pretenso soberano reduzido pelo poder do desejo; vi desabrochar a
malícia numa virgem inocente, rendida ao desejo de poder.
Escrevi
à procura; não sei o que encontrei. Estruturei uma tragédia: prólogo, párodo,
alternância de episódios e estásimos, êxodo a concluir. Deixando em aberto. A
vida humana caminha no escuro, por isso é tragédia. Irreversível nos atos, que
não podem reparar-se sem contrição. Por isso é tragédia. No caminho escuro dos
atos irreversíveis, necessitamos da profecia, de alguém que nos traga a
Palavra. E que deixe em aberto.
Escrevi
O Poder e o Desejo em busca da
Palavra. Não sei o que encontrei. Entreguei o texto sem consumar a procura.
Passei o testemunho aos atores, para que eles vão mais longe. E o transmitam ao
público.
O Poder e o Desejo.
À procura de um ponto de partida. A busca continua.
Ensaio:
(Fotografias de Jorge Figueiredo no ensaio de O Poder e o Desejo)
sexta-feira, 12 de dezembro de 2014
Texto trigésimo quinto
A vida no teatro.
Desejar. Ter medo. Avançar sem medo. Avançar contra
o medo e apesar dele. Vencer o atrito do palco, suportar o flagelo das luzes,
emergir da avalanche dos olhares. Enfrentar a própria pequenez, projetado numa
grandeza maior. Transcendente.
A vida no teatro.
Estar preparado. Preparar-se. Treinar o desejo para
mais desejar o transcendente. O bom ator não improvisa porque está preparado. E
improvisa porque está preparado. Tudo é espontâneo, nada é casual. Os ensaios
preparam para tudo, se soubermos preparar-nos para eles.
A vida no teatro: preparar-se para ensaiar, ensaiar
para estar preparado. Desejar o transcendente e, por isso, transcender-se
imparavelmente em desejo. O melhor ator não é o mais talentoso; é, antes, o
mais bem preparado. E o mais insatisfeito.
Preparativos:
Aquecimento:
Ensaio:
(Fotografias de Jorge Figueiredo, no ensaio de O Poder e o Desejo)
sábado, 6 de dezembro de 2014
Texto trigésimo quarto
Teatro.
Escrever um texto dramático é buscar a Palavra,
reduzi-la a palavras sepultadas no leito da escrita, esperar os corpos e as
vozes que as ressuscitem. É um esforço lacunar, a noção humilde de ser o elo
primário de uma cadeia transcendente, de cujo sortilégio poderá resultar a obra
de arte. É forjar, com as ferramentas da escrita, uma matéria-prima, rude
minério que valha a pena ofertar à alquimia do palco, onde, vertido em oiro,
deixe de pertencer a quem o dá, sem que chegue a ser possuído por quem o
recebe.
Teatro.
Representar uma peça de teatro é aceitar o
sacerdócio de um rito onde se permanecerá sempre aprendiz. É irradiar uma força
que se encontra no íntimo, oriunda de algo maior, distante para dentro,
inacessível na sua plenitude. É expor-se, corpo presente aos olhares, espírito
nos antípodas da exibição. É assumir-se na verdade possível, para assim poder exprimir,
numa liturgia de vivificação, as palavras adormecidas que buscam dizer a
Palavra.
Teatro.
Assistir a uma peça de teatro é comungar do
processo criativo, receber o tesouro de mãos abertas, cerrar os punhos na dor
do entendimento feliz que ele suscita, estender os braços na partilha urgente a
que ele impele. Nenhuma outra arte espelha a vida tão cruelmente, nenhuma a
transmite de modo tão inexorável. Porque ela própria é vida: gerada na ideia
que lhe é alma, consubstanciada no texto que lhe é matéria, existente na
duração do trabalho dos atores que lhe é história. E, findo o seu tempo, herdada
na memória de cada espetador que lhe é sucessão.
Teatro. O Poder
e o Desejo.
Em janeiro de 2015, a possibilidade de reunir
autor, atores e espetadores. E fazer acontecer vida.
Vai valer a pena!
sábado, 29 de novembro de 2014
Texto trigésimo terceiro
Desde sempre, o fascínio. Terror e piedade.
A tragédia grega em toda a sua riqueza de mitos e
valores, a vida contada em conquistas operadas por homens e destinos traçados
por deuses. A provocação humana às forças que a transcendem, caminho cego por
episódios de sinuosa escuridão. E a peripécia reveladora, o inevitável efeito.
A catástrofe. E, por meio dela, a consciência de si, a descoberta da virtude.
Terror e piedade. A catarse.
Desde sempre, o fascínio. E a interrogação, também.
A força avassaladora, a pura imortalidade deste modelo primordial do teatro
questionam todas as demais experiências históricas de dramaturgia onde, afinal,
ela permaneceu. Na estrutura, na forma ou no tema. Terror e piedade. A catarse.
Desde sempre, o fascínio. E a interrogação, também.
E o desafio, depois. A vontade de limpar a escrita teatral para chegar à
essência de onde ela nasceu: a vida contada em conquistas operadas por homens e
destinos traçados por deuses. Ainda que, no tema, a mitologia clássica, ventre
que gerou a cultura europeia que (ainda) falamos, possa dar lugar à teologia
judaico-cristã, tutora que a educou e que (ainda) a influencia. Terror e
piedade. A catarse?
Desde sempre, o fascínio. E a interrogação, também.
E o desafio, depois. E a tentativa, agora: O
Poder e o Desejo. Um exercício trágico. Terror e piedade.
E a catarse?...
sábado, 15 de novembro de 2014
Texto trigésimo segundo
Escrever.
Escrever como Penélope: urdir uma infindável teia
de sonhos, infindável porque de sonhos. Escrever ao contrário de Penélope:
tecer no escuro da noite, encher o balão na densidade dos silêncios, rezando
para que o espigão dos dias ruidosos retraia o seu furor e se compadeça da
película ténue que envolve a fragilidade gasosa (espiritual?...) da criação.
E escrever, escrever sempre. A propósito e sem ele,
nas horas disponíveis e nos intervalos do tempo que não há, nas intermitências
de tudo e nas permanências de nada, a caneta ou a lápis, nos suportes próprios
e impróprios, nos cadernos de qualquer outra coisa, nos versos dos talões do
multibanco e nas frentes também, quando a impressão está sumida, no bloco de
notas do computador portátil quase sem bateria e no rascunho de mensagens do
telemóvel. E na memória, cada vez mais débil, onde a frase pensada e armazenada
será mais tarde recuperada numa forma diferente.
Escrever como Penélope: entreter uma obra visível
imperfeita à espera de um rei invisível, perfeito na minha ideia dele, que
teima na demora de mostrar-se.
Escrever. Porque o ímpeto é irreprimível, porque a
vontade dói de uma maneira insuportável. Escrever sempre. Porque outra coisa é
impensável.
sábado, 8 de novembro de 2014
Acordai
Eram tempos em que crescíamos em estatura, inteligência e vontade. Eram tempos em que a coragem se armazenava dentro de nós como um perfume de essência poderosa. Eram tempos em que transportávamos todos os sonhos do mundo num relicário que nos cabia no peito. Não sabíamos o que viríamos a ser, mas acreditávamos que poderíamos ser tudo o que quiséssemos.
Depois, veio o conformismo, a sedução do conforto, um certo pragmatismo resignado que se estendeu como uma manta de realismo falso sobre a indómita ousadia de outrora.
Esta canção verdadeiramente heróica era cantada por nós nesses tempos, no coro da Escola Secundária. Com ela, e com muitas outras, aprendi o poder da palavra, a força da música, a urgência da arte. E a necessidade absoluta de continuar.
Acordemos!
Depois, veio o conformismo, a sedução do conforto, um certo pragmatismo resignado que se estendeu como uma manta de realismo falso sobre a indómita ousadia de outrora.
Esta canção verdadeiramente heróica era cantada por nós nesses tempos, no coro da Escola Secundária. Com ela, e com muitas outras, aprendi o poder da palavra, a força da música, a urgência da arte. E a necessidade absoluta de continuar.
Acordemos!
domingo, 2 de novembro de 2014
Texto trigésimo primeiro
Morrer é partir um pouco.
Foste-te embora num adeus anunciado, demorado numa dor
arrastada insuportável, numa súplica muda lancinante. Querias ficar, eu sei: na
tua vida toda de queixumes havia um medo mascarado, uma angústia de perda no infinito
rosário das tuas confissões magoadas, uma saudade antecipada nas tuas
recorrentes invocações de fim. Uma nostalgia assustada na pressa. Um exorcismo.
Viveste sonhando que vivias, sonhaste que vivias
sonhando. Entre a ocasião e a impossibilidade, foste um querer-ser. Exististe à
espera de uma consumação da qual fugias.
E morreste. Partiste com tudo o que me fica de ti,
permaneces em tudo o que levas de mim. Há uma aproximação irreprimível neste
afastamento definitivo de ti que revoga a intransponível distância que sempre
cavámos entre nós, um abraço de morte que tritura duas vidas de costas
voltadas. Ou que as recompõe. Um exorcismo?...
Morrer é partir um pouco. E ficar muito mais. Porque
só morrerás definitivamente neste mundo quando eu deixar de chamar por ti.
- Mãe!...
sábado, 25 de outubro de 2014
Texto trigésimo
Nos primeiros anos percorreu o caminho de ida e
volta de casa para a escola pela mão da mãe, que ia ficando mais pequena à
medida que a sua crescia, sem que isso diminuísse o vigor com que a mão maior
segurava a mais frágil e sem que se alterasse a relação de forças com que a mãe
o dominava. Foi talvez na quarta classe, ou perto do final da terceira, que ele
foi autorizado a regressar sozinho a casa no final do dia. De manhã, o
acompanhamento da mãe no percurso de ida era, mais do que uma certificação da
pontualidade dele, uma tranquilidade para os nunca exteriorizados receios dela.
A mãe nunca deixou de sofrer por ele, de se
sobressaltar na contínua imaginação, que ela tinha como premonição segura, de
todas as possíveis fatalidades que nunca ocorreram. Sempre ocultou todos os
sustos no ênfase de controlo de tudo que alardeava e, por isso, ele sempre
descansou na descontração dela em que piamente acreditava. Nunca supôs que ela
dissimulasse qualquer espécie de medo. Nunca duvidou de que a pressão que ela
exercia sobre ele fosse outra coisa para além de uma desconfiança quanto ao seu
cumprimento. E terá nascido nessa altura a ideia, que ele desenvolveu ao longo
dos anos, de que ela lhe reconhecia uma fragilidade de caráter que fazia com
que não gostasse dele.
— Quando acabar a escola, voltas imediatamente para
casa – dizia ela, invariavelmente, no seu tom controlador, cujo asserto o
manietava. – Ai de ti que te demores em algum lado!...
Assim, o caminho para casa era sempre apressado, o
que lhe impedia a observação, a descoberta e o desvio que sempre moldam os anos
de infância a caminho da adolescência. Ele nunca se desviou, porque sabia que a
sua mãe não queria. E, para ele, nada era mais importante.
Saía da escola e atravessava a avenida, numa linha
perpendicular à porta em arco que, a determinada altura, foi pintada de verde.
Depois, sempre pelo passeio e com extremo cuidado, se era inverno, para se
desviar das poças de água que poderiam encharcar-lhe as botas, único calçado de
que dispunha para todo o ano letivo, descia até ao entroncamento da estrada. Aí
havia uma papelaria, onde, anos mais tarde, passaria a vir quase diariamente.
Contornava-a e continuava a seguir pelo passeio agora largo, cruzando-se com
mulheres da idade da sua mãe que, domésticas como ela, percorriam aquela zona
às compras ou passando o tempo. Também se cruzava com rapazes e raparigas mais
velhos, que se moviam em grupos com uma descontração que o perturbava. Depois
de passar a padaria, uma das lojas onde mais tarde seria conhecido pelo nome,
avistava já as arcadas dos prédios onde morava. Depois do maior café do bairro,
em cuja esplanada várias pessoas, homens e principalmente mulheres, ostentando
uma condição social pretensamente superior que estavam convencidas de possuir,
prolongavam a tarde ao sabor de chá e torradas, havia uma sapataria cujo dono
era amigo de infância da sua mãe e tinha um nome bíblico que ele só quarenta
anos mais tarde voltou a encontrar em alguém. A seguir, o supermercado a que a
sua mãe amiúde recorria para solucionar qualquer súbita falha detetada na
despensa, dizia-lhe que tinha chegado. O supermercado era a loja do prédio onde
morava, no último andar que se abria em vista panorâmica sobre o bairro.
Quando tocava à campainha, respirava de alívio: não
se tinha desviado nem atrasado, a sua mãe ficaria satisfeita.
sábado, 18 de outubro de 2014
Teatro: «O Evangelho segundo Pilatos»
«Sempre
preferi adensar os mistérios a resolvê-los. […] Um mistério, desde que obtém
uma solução, deixa de o ser, pois não nos oferece mais nada para pensar.»
Este
excerto que transcrevo do texto de Éric-Emmanuel Schmitt incluído na folha de
sala do espetáculo O Evangelho segundo
Pilatos atualmente em cena no Teatro da Comuna, exprime bem o sentido da obra
literária e dramática deste extraordinário autor. Ao mesmo tempo, revela a
principal razão pela qual a mesma me fascina.
Quando
li O Evangelho segundo Pilatos, há
uns anos atrás e na sua forma original de romance, fiquei imediatamente
rendido. Não só pelo facto de abordar um tema que me apaixona enquanto ser
humano e amante de História (a controvérsia sobre a figura histórica de Jesus
de Nazaré, a sua vida e as peripécias da sua morte, a crença na sua ressurreição
e a eclosão do Cristianismo), mas também – e sobretudo – pela audaciosa profundidade
da sua abordagem e pela inteligência provocadora com que deixa tudo em aberto. Éric-Emmanuel
Schmitt, que vem da Filosofia para as Letras, não escreveu o livro para partilhar
a sua resposta, mas para semear a interrogação no íntimo de cada leitor. De facto,
questionar a figura de Jesus e a realidade do Cristianismo, pôr a si próprio o
problema da Incarnação e da Ressurreição é, quanto a mim, refletir sobre coisas
essenciais do mistério do ser humano: expectativa, sonho, medo, destino,
sacrifício, festa. Vida e morte (e Vida outra vez?...). Por experiência afirmo
que é um caminho que mais e mais nos aproxima de nós mesmos.
O
próprio Éric-Emmanuel Schmitt, exímio dramaturgo, adaptou o romance para
teatro. É essa versão que temos agora a oportunidade (absolutamente
imperdível!) de ver, até 23 de novembro, no Teatro da Comuna.
Neste
espetáculo, a brutal urgência do texto é acentuada pela frugalidade da
encenação e pela verdade corajosa do trabalho dos atores (pontuada por
momentos brilhantes). Tudo ao serviço do texto. Tudo para que fiquemos sós
diante das palavras ditas, que nos envolvem como o vento do deserto judaico cerca
Pilatos nas dúvidas que o tornam refém de uma interrogação profunda que em nós
se prolonga.
O Evangelho segundo Pilatos,
no Teatro da Comuna. Um mistério a não perder!
domingo, 21 de setembro de 2014
Conversando... sobre Penélope (3)
O conto que escrevi para o concurso «Liberdade, Medo e Solidão» (e que será publicado na coletânea Penélope) foi, sobretudo, uma experiência de regresso projetado, uma espécie de revivência, com valor acrescentado, de um tempo de juventude inocente em que eu, descrendo na minha persistência na longa duração da escrita de um romance (que achava que nunca seria capaz de concluir), me refugiava no formato reduzido e, por isso, mais confortável, do conto. Aí treinei sucessivamente a prosa, sempre à procura de um estilo ou, melhor dito, de uma maneira própria de escrever.
Em virtude da esmagadora exigência que sempre apliquei a mim próprio em tudo, nenhuma das tentativas literárias desse tempo sobreviveu ou alcançou forma suficientemente definitiva que merecesse passar o apertado crivo da minha censura e afirmar-se como obra acabada. A minha escrita, treinada no conto, nunca completou nenhum. E depois, o apelo do teatro fez-me descobrir um género onde me concretizei com maior eficácia e, assim, operou na minha escrita um desvio que me afastou diametralmente da prosa narrativa durante vários anos.
Por isso, já «reconciliado» com essa mesma prosa narrativa após a publicação de Nós, Vida, aceitei o desafio de participar neste concurso de contos e lancei-me com redobrado ânimo sobre esse formato da minha escrita de outrora, entretanto abandonado. Fiz-me a ele com a mesma inocência juvenil, mas este regresso levou-me a outro lugar, o passado em que me apoiei empurrou-me para uma novidade de futuro. De facto, nada em mim é já igual ao tempo em que procurava palavras indecisas para dizer o que não sabia. É a mesma, a ternura com que ataco a escrita, é o mesmo respeito, a mesma noção de fragilidade diante do Absoluto, a mesma pequenez das palavras perante a Palavra, o mesmo medo de ficar aquém. Mas passaram alguns anos, pisei vários caminhos em que a vida me pisou e, por isso, são agora mais poderosas as armas, as munições de mais grosso calibre. Ao escrever este conto, senti algo que nunca tinha escrito, escrevi como nunca sentira antes. E percebi uma porta entreaberta, uma inspiração para continuar. O futuro...
Por aquilo que provocou em mim, digo que este conto, a publicar na coletânea Penélope, é uma das melhores coisas que escrevi. Faço votos para que se torne uma boa leitura para os leitores. E que valha a pena!...
Aqui deixo, novamente, a ligação para a plataforma onde poderão apoiar o projeto de lançamento do livro:
http://livrosdeontempt.us5.
terça-feira, 9 de setembro de 2014
Conversando... sobre Penélope (2)
A oportunidade de participar no concurso «Liberdade, Medo e Solidão», promovido a partir de uma parceria entre a Editora Livros de Ontem e a plataforma The Art Boulevard , constituiu para mim um desafio particularmente grato: o de escrever a partir de um tema, obrigando-me a expandir a criatividade no horizonte de condições definidas e respeitando critérios específicos. Dizer que a total liberdade é a melhor fonte de inspiração não passa, quanto a mim, de uma mistificação ou de um lirismo: é mais rico o périplo do turista que se apresenta na cidade munido de um guia de visitas do que o daquele que chega simplesmente apetrechado de uma completa ignorância do local.
Além disso, a própria situação de concurso, cujo resultado - a seleção de dez contos - dependeria da apreciação de um júri, impeliu-me a um redobrado esforço de excelência, a um exercício maior de superação. É verdade que, para mim, escrever é a tentativa de ser mais eu e quase sempre sinto que as palavras me ultrapassam. Participar num concurso aumenta este impulso de transcendência, porque, de alguma forma, sabemos que existem outros autores na mesma prova, há uma noção de esforço paralelo que empurra, uma espécie de sincronia de valor acrescentado, como se a sobreposição simultânea da escrita de uma palavra lhe alargasse o campo semântico.
Não sei se é por tudo isso que considero o conto que escrevi (e foi selecionado!) para a coletânea Penélope um dos textos de minha autoria de que mais gosto. Acredito que gostarei mais ainda dos outros que compõem o livro. Rever-me-ei, decerto, em alguns deles. E nas fotografias também (o que sentirá o autor daquela que acompanha o meu conto?...). É essa sintonia de criação, a par com a riqueza da diversidade, que torna uma iniciativa destas tão fascinante.
A não perder!...
O link para conhecer e apoiar este projeto em crowdfunding é este:
sábado, 30 de agosto de 2014
Conversando... sobre Penélope
Penélope.
Este é o título da obra cuja publicação está para breve: uma coletânea de dez contos que inclui outras tantas fotografias e uma ilustração de capa. Todo este conteúdo resultou de uma apurada seleção após concurso, subordinado ao tema «Liberdade, Medo e Solidão». Há ainda uma colaboração especial de Edson Athayde.
Esta iniciativa, fruto de uma parceria entre a editora Livros de Ontem e a plataforma The Art Boulevard, tem um significado especial para mim, já que um dos contos selecionados e incluídos na obra é da minha autoria!...
O conjunto da obra, garanto!, promete grande qualidade. A capa já é pública. Aqui está:
Como é apanágio da Livros de Ontem, o projeto está, neste momento, em fase de divulgação para apoio em crowdfunding, um conceito (revolucionário?) de promover a literatura, que recorre a uma implicação direta dos leitores, os quais, mediante o seu apoio, fazem do livro uma «coisa sua», mesmo antes de ele chegar às livrarias, ao mesmo tempo que estabelecem um vínculo mais personalizado com os próprios autores.
Aqui fica o link de acesso:
http://livrosdeontempt.us5.
A todos os que se dispuserem a participar no apoio a esta iniciativa, desde já o meu sincero agradecimento!
Este é o título da obra cuja publicação está para breve: uma coletânea de dez contos que inclui outras tantas fotografias e uma ilustração de capa. Todo este conteúdo resultou de uma apurada seleção após concurso, subordinado ao tema «Liberdade, Medo e Solidão». Há ainda uma colaboração especial de Edson Athayde.
Esta iniciativa, fruto de uma parceria entre a editora Livros de Ontem e a plataforma The Art Boulevard, tem um significado especial para mim, já que um dos contos selecionados e incluídos na obra é da minha autoria!...
O conjunto da obra, garanto!, promete grande qualidade. A capa já é pública. Aqui está:
Como é apanágio da Livros de Ontem, o projeto está, neste momento, em fase de divulgação para apoio em crowdfunding, um conceito (revolucionário?) de promover a literatura, que recorre a uma implicação direta dos leitores, os quais, mediante o seu apoio, fazem do livro uma «coisa sua», mesmo antes de ele chegar às livrarias, ao mesmo tempo que estabelecem um vínculo mais personalizado com os próprios autores.
Aqui fica o link de acesso:
http://livrosdeontempt.us5.
A todos os que se dispuserem a participar no apoio a esta iniciativa, desde já o meu sincero agradecimento!
sexta-feira, 22 de agosto de 2014
Texto vigésimo nono
O externato que ele frequentou durante todo o
primeiro ciclo (a escola primária, como então se chamava) situava-se a meio de
uma pequena avenida da qual herdou o nome, uma via com dois sentidos de tráfego
separados por placas centrais arborizadas.
Ao cimo da avenida havia um pequeno parque
florestal, a “mata”, como todos lhe chamavam, implantada em homenagem a um
pintor de referência do Naturalismo português, cujo busto se erguia a meio da
rampa de entrada. Todos os dias, ou quase, ele olhava para o portão da mata,
quando entrava ou quando saía do externato. Porém, o mundo que jazia para lá
desse portão pouco ou nada significava para ele. Tomava consciência da
vegetação frondosa daquele pulmão urbano de um modo distante e indiferente, na
completa ignorância do valor que lhe daria anos mais tarde.
O caminho de casa para a escola não passava pela
mata. Fazia-se por baixo, pela estrada com a qual a avenida confluía. Ou, será
mais correto dizê-lo, da qual ela partia. No vértice do ângulo que as duas vias
formavam, erguia-se a igreja paroquial, construção iniciada no século XVIII com
materiais e homens desviados da obra do Palácio de Mafra, segundo diziam as más
línguas. Contribuía para a lenda, não obstante a distância geográfica, o nome
do arquiteto, o mesmo do Real Edifício, e a coincidência de datas dos projetos.
A ser verdade, tal contrabando de pedra, estruturas e mão de obra não acelerou
a construção, já que a empreitada de edificação da igreja paroquial se arrastou
por longo tempo, só ficando concluída no início do século XIX, para ser
dedicada ao culto em 1809.
Ele haveria de entrar muitas vezes na igreja, de
muitas outras passaria diante dela como se lá entrasse e de outras ainda
transportaria consigo a sensação de estar lá dentro para todas as distâncias
que dela o afastassem. Porque aquela igreja tornar-se-ia uma referência
absoluta na sua vida muito antes de ele o perceber e continuaria a sê-lo mesmo
quando ele já não o percebesse.
quarta-feira, 13 de agosto de 2014
Texto vigésimo oitavo
Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Uma pequena(?) história de insondável profundidade.
Onde o enredo é mera superfície espelhada para um abismo de análise do ser
humano: os sonhos, as inseguranças, as ambições insatisfeitas, os falsos
refúgios, a cobardia das decisões não tomadas, a esterilidade da resignação às
convenções.
Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Lemos o livro e é como se ele nos lesse a nós,
folheamo-lo e ele devora-nos, aponta-nos cruelmente o dedo suave com que
viramos as páginas. Porque nós estamos ali, irreprimivelmente ali, naquelas
personagens intemporais do vitorianismo tardio da Londres dos anos vinte.
Estamos na chama anestesiada de Clarissa Dalloway, nas amachucadas
interrogações de Peter Walsh, no alívio ridículo de Hugh Whitbread e no êxito
social de sir William Bradshaw.
Estamos na revolta de Lucrezia Smith e na conversão desidratada de Sally Seton.
E na correção cinzenta de Richard Dalloway. E também (assustadora constatação!)
na tortura sem saída de Septimus Warren Smith.
Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Uma angústia que se apodera de nós ao longo da
leitura, porque já morava em nós antes dela. Porque é a angústia do ser humano
em busca de sentido, em busca de si próprio, em busca de um sentido em si
próprio. Precisamos da angústia que nos alimente a luta para nos livrarmos
dela.
Mrs.
Dalloway. Virginia Woolf à
procura de uma saída.
sexta-feira, 1 de agosto de 2014
Dizer a Imagem 5: Derrame
Derrama-se
a vida como a água se derrama. Compacta na sua transparência, poderosa na sua
liquidez, inexorável no fluido.
Derrama-se
a vida como a água se derrama. Vem de um vazio de alturas invisíveis,
espraia-se na imensidão de uma inexistência, na forma de um nada, onde limos e
nenúfares apenas dão cor a um falso entendimento.
Derrama-se
a vida como a água se derrama. Define-se numa fórmula, revela-se em
propriedades, desdobra-se em aplicações. E permanece ausente em si mesma, dona
de silêncios, rainha do mistério.
Quem
me dera inverter a leitura! Ser capaz de içar-me ao invés do derrame, caminhar
do nada onde me acabo para o vazio da origem! E perceber…
(Fotografia de Jorge Figueiredo)
sábado, 26 de julho de 2014
Nona alegoria
Sentados à lareira
Nós os dois
A sós
Na melancolia das chamas
Desenhadas
No tiquetaque das palavras
Esboçadas
No veludo dos gestos
Cobiçados
No outono das lembranças
Inventadas
Sentimos
De olhos fechados
Corpo esquecido
Alma aberta
O cristal de uma afeição
Desejada
sexta-feira, 18 de julho de 2014
Conversando... sobre um Grammy
Não há palavras bastantes para dizer o discurso inicial do contrabaixo, o veludo das frases que depois se transforma numa cadência de sobressaltos sensíveis, quase silábicos.
Não há sentimento bastante para vibrar com a reverência humilde do cantor que, em dois minutos de silêncio expectante, se prepara para construir um momento artístico sublime.
Não há virtude para admirar a coragem da voz que ousa lançar-se num diálogo sem rede com um instrumento que a expõe enquanto a acompanha, que a desnuda ao mesmo tempo que a envolve.
Uma canção belíssima, na letra e na música, aqui elevada mais acima numa interpretação transcendente. Um enorme contrabaixo! Uma voz maior!
Não há sentimento bastante para vibrar com a reverência humilde do cantor que, em dois minutos de silêncio expectante, se prepara para construir um momento artístico sublime.
Não há virtude para admirar a coragem da voz que ousa lançar-se num diálogo sem rede com um instrumento que a expõe enquanto a acompanha, que a desnuda ao mesmo tempo que a envolve.
Uma canção belíssima, na letra e na música, aqui elevada mais acima numa interpretação transcendente. Um enorme contrabaixo! Uma voz maior!
sexta-feira, 11 de julho de 2014
Texto vigésimo sétimo
Adolescência. As férias eram passadas na cidade. Na
solidão passeada nas ruas. No olhar desenrolado em volta, preso por dentro num
silêncio curioso e derramado sobre as monotonias de asfalto e calçada, o prumo
dos edifícios, a fluidez da gente. Ou nas quatro paredes do quarto, a meditação
claustrofóbica alternando com os gritos mudos desenhados, o mergulho a pique na
leitura intercalado com as braçadas vigorosas da escrita incipiente.
Adolescência. As férias eram isolamento, descoberta
de si, procura interrogada, esboços de resposta, reticências. O excesso de
solidão tornou-o incompreendido, ao mesmo tempo que gerou nele uma perceção
maior de tudo. A quietude debruçada divorciou-o de uma realidade de ocupação e
conquista, segregou-o para uma nuvem de afastamento e dádiva. O mundo dos
outros vibrava-lhe dentro numa espécie de infrassons de comoção e delírio.
Adolescência. Todos o julgavam insensível e vazio,
enquanto ele crescia para albergar em si toda a realidade que observava, para
inventar uma utopia que lhe superasse o desgosto do que via. Desconstruía na
mente e reconstruía no sonho.
Um dia parou de crescer. Maturidade. Teve de
enfrentar a vida fora de si. Revestiu-se de uma roupagem de relações, decidiu
tornar-se alegre e comunicativo. Todos, à sua volta, saudaram a sua
sensibilidade adquirida, a sua riqueza interior revelada. O companheiro que se
ganhara.
Só ele teve noção do que se perdera. Só ele soube.
quinta-feira, 3 de julho de 2014
Conversando... sobre Sophia
Um texto avassalador, alicerçado na lenda da promessa verbalizada pelo Duque de Gandia (Francisco de Borja, futuro jesuíta canonizado) ao contemplar o cadáver já decomposto da imperatriz de Espanha (Isabel, filha do rei de Portugal D. Manuel I), por quem se apaixonara.
Na lamentação do Duque feita poesia pelo génio de Sophia de Mello Breyner Andresen, é possível ler - e ouvir, nesta belíssima interpretação de Rita Loureiro - a amargura de um povo de esperanças decompostas, a desilusão coletiva desenhada na dicção perfeita das palavras duras, um véu de descrença lançado pelo olhar que traduz, na sua profunda inexpressividade, a crispação do poema.
Mas a ruína do que nos é querido pode provocar a sublimação da vontade de querer, a visão da decadência do corpo pode gerar a explosão de tudo o que é espírito (e de que o próprio corpo faz parte). Ressurreição para uma vida outra, necessariamente outra, não dominada por valores perecíveis que iludem e matam.
Liberdade.
Obrigado, Sophia!
Na lamentação do Duque feita poesia pelo génio de Sophia de Mello Breyner Andresen, é possível ler - e ouvir, nesta belíssima interpretação de Rita Loureiro - a amargura de um povo de esperanças decompostas, a desilusão coletiva desenhada na dicção perfeita das palavras duras, um véu de descrença lançado pelo olhar que traduz, na sua profunda inexpressividade, a crispação do poema.
Mas a ruína do que nos é querido pode provocar a sublimação da vontade de querer, a visão da decadência do corpo pode gerar a explosão de tudo o que é espírito (e de que o próprio corpo faz parte). Ressurreição para uma vida outra, necessariamente outra, não dominada por valores perecíveis que iludem e matam.
Liberdade.
Obrigado, Sophia!
sexta-feira, 27 de junho de 2014
Dizer a Imagem 4: Tu
O
coração aberto em que te insinuas é o cadeado em que te fechas. Seduzes-me no
meneio ondulado das tuas curvas paradas, no requebro das pregas em que te
vendes. E repeles-me na frieza branca da tua dureza exposta, na ausência de cor
em que a tua imagem se esconde.
Atrais-me
no que me afasta de ti. És intocável na tua imensa possibilidade. Desenho-te um
rosto, sonho-te uma alma no corpo em que te mostras.
Quem
és tu?
(Fotografia de Jorge Figueiredo)
sábado, 21 de junho de 2014
Conversando sobre... música brasileira
Chico Buarque de Hollanda é um dos nomes maiores da Música Popular Brasileira e é, ao mesmo tempo, um poeta de elevadíssimo nível. Admiro-o como escritor, compositor e intérprete.
Na comemoração dos seus setenta anos de idade (o seu aniversário ocorre a 19 de Junho), partilho aqui uma das suas melhores canções. Considero-a genial sob todos os aspetos: a simplicidade da melodia, o brutal intervencionismo da letra, o forte impacto do arranjo orquestral. E, principalmente, a perenidade da sua mensagem.
Na comemoração dos seus setenta anos de idade (o seu aniversário ocorre a 19 de Junho), partilho aqui uma das suas melhores canções. Considero-a genial sob todos os aspetos: a simplicidade da melodia, o brutal intervencionismo da letra, o forte impacto do arranjo orquestral. E, principalmente, a perenidade da sua mensagem.
quinta-feira, 12 de junho de 2014
Conversando... sobre a Língua Portuguesa
Um Grande Senhor do teatro brasileiro dizendo um Grande Texto de um Grande Escritor da língua portuguesa.
O abraço de uma voz quente que diz a força da palavra escrita.
Para que precisamos de mais Acordos?...
O abraço de uma voz quente que diz a força da palavra escrita.
Para que precisamos de mais Acordos?...
sexta-feira, 30 de maio de 2014
Texto vigésimo sexto
Quando eu morrer
Jovem na força da vida
ou velho a decair
Não quero que me chorem
e não corem
se tiverem vontade de rir
Não quero que ponham luto
ou espalhem cinza no coração
da canção
E lá, no alto do cerro,
não calem o puto
que gargalhar no enterro
do desterro.
Que eu quero ser enterrado
ao lado
dos altos montes que demandei
Para depois olhar de cima
a
cruz-razão da minha rima
do lugar que saberei.
Quando eu morrer
saibam que morri
e lembrem-se de mim.
E, enquanto eu viver,
Sorriam-me, odeiem-me
cuspam-me em cima
Elevem-me e apeiem-me
do pedestal da estima
Mas não me entreguem à noite
esquecida
não me abandonem à minha sorte
Que eu quero viver para além da
morte
Não quero morrer em vida.
sexta-feira, 16 de maio de 2014
Conversando... sobre uma estreia
Há textos assim: desvendam-se profundamente na clareza
com que nos desvendam; dizem-nos brutalmente na nudez em que se dizem.
Há escritores assim: escondem-se na frágil gaiola
dourada das palavras robustas que tecem; revelam-se nessa urdidura inocente e
necessária. Inocente porque necessária. E expõem-nos, escancaram-nos
impiedosamente naquilo que escondemos, no modo como o escondemos.
Cassiopeia,
a nova peça escrita por Miguel Graça, a cuja estreia tive o privilégio de
assistir, é assim. Mas é muito mais. É uma encenação de Pedro Caeiro
suficientemente corajosa para servir o texto sem nunca ceder à tentação
mesquinha de servir-se dele, num arrojo minimalista de que resulta uma
plenitude esmagadora. É um trabalho dos atores (David Esteves, Joana Ribeiro
Santos e Vítor Silva Costa) que se alimenta da escrita a que se entrega, numa
generosidade sacrificial, num ritual de talento e suor.
O resultado de tudo isto é uma obra de arte de uma
consistência dolorosa e libertadora. Pelo menos, foi assim que eu a vi.
A não perder. Só até domingo. No Teatro Taborda.
sábado, 3 de maio de 2014
Almada Negreiros
Recordo-me de ter lido pela primeira vez este texto no enunciado de um teste, quando era aluno do 8º ano. Sobre ele tive de responder a questões de interpretação e gramática. Já não me lembro quais eram, nem o que escrevi a propósito delas. Mas o texto permaneceu na minha memória, inapagável na sua profundidade e beleza.
É isto, a literatura!
É isto, a literatura!
MÃE
Poema de Almada Negreiros
Mãe!
Vem ouvir a minha cabeça a contar histórias ricas que ainda não viajei.
Vem ouvir a minha cabeça a contar histórias ricas que ainda não viajei.
Traze tinta encarnada para escrever estas coisas! Tinta cor de sangue,
sangue! verdadeiro, encarnado!
Mãe! passa a tua mão pela minha cabeça!
Eu ainda não fiz viagens e a minha cabeça não se lembra senão de
viagens!
Quando voltar é para subir os degraus da tua casa, um por um. Eu vou
aprender de cor os degraus da nossa casa. Depois venho sentar-me a teu lado. Tu
a coseres e eu a contar-te as minhas viagens, aquelas que eu viajei, tão
parecidas com as que não viajei, escritas ambas com as mesmas palavras.
Mãe! ata as tuas mãos às minhas e dá um nó-cego muito apertado! Eu quero
ser qualquer coisa da nossa casa. Como a mesa. Eu também quero ter um feitio, um
feitio que sirva exactamente para a nossa casa, como a mesa.
Mãe! passa a tua mão pela minha cabeça!
Quando passas a tua mão pela minha cabeça é tudo tão verdade!
sexta-feira, 25 de abril de 2014
Dizer a Imagem 3: Ainda me lembro
Ainda
me lembro do balanço acelerado, a vertigem de vermelho. Foram tempos de aventura
sem planos, de abrir caminhos na aridez deserta, de arriscar o futuro no desdém
das heranças, de reduzir a escombros para esculpir nas pedras. De geração no
caos.
Ainda
me lembro de ouvir dizer o medo da vertigem, de tropeçar no eco das profecias do
fim da aventura. Que a bagagem das ideias seria largada como lastro incómodo à
medida que escasseasse a energia combustível, num avanço cada vez mais lento
face à inércia de tudo. Cedência gelatinosa à sedução dos interesses.
Ainda
me lembro daquilo que já só resta lembrar. Neste vermelho desbotado,
desacreditado, imobilizado na mata seca, degeneração de uma prosperidade
efémera, as casas que se erguem mais à frente são muros que aprisionam,
vigilantes na distância. Para que o bosque não possa estender-se em sinfonia
frondosa, antes esbarre na falácia das árvores cuja sombra não chega para
todos.
E,
mais além, o céu azul. Inatingível.
Liberdade.
Ainda
me lembro.
(Fotografia de Jorge Figueiredo)
quinta-feira, 24 de abril de 2014
Sobre William Shakespeare
Ainda a propósito do
450º aniversário do nascimento do grande escritor e homem de teatro, não posso
deixar de prestar-lhe a minha homenagem e exprimir a minha admiração pela
magnífica obra que ele nos legou. O modo como soube aproveitar os recursos da
sua língua – e a capacidade de reinventá-la – para expressar tudo o que há de
mais profundo e intemporal no ser humano; o modo como se inspirou em tradições
e lendas conhecidas para nos transmitir a essência oculta da humanidade – do
sublime ao mais negro; o modo como, enfim, plasmou tudo o que nos quis dizer
numa escrita simultaneamente densa e aberta, suscetível de todo o tipo de
apropriações, traduções, versões e interpretações, sem nunca perder a sua
verdade essencial: tudo isso supera absolutamente o que estas minhas impotentes
palavras tentam dizer.
A literatura, a
escrita teatral, o próprio teatro não seriam decerto o que hoje são sem o
contributo esmagador de William Shakespeare. A ilustrá-lo, partilho aqui um
excerto de Hamlet (Ato IV, Cena 4)
que aprecio particularmente. Para saborear na
versão original.
«HAMLET
[…] What is a
man,
If his chief good
and market of his time
Be but to sleep
and feed? a beast, no more:
Sure he that made
us with such large discourse,
Looking before
and after, gave us not
That capability
and god-like reason
To fust in us
unused. Now, whether it be
Bestial oblivion,
or some craven scruple
Of thinking too
precisely on th’event –
A thought which
quartered hath but one part wisdom,
And ever three
parts coward – I do not know
Why yet I live to
say “This thing’s to do,”
Sith I have
cause, and will, and strength, and means,
To do’t… Examples
gross as earth exhort me.
Witness this army
of such mass and charge,
Led by a delicate
and tender prince,
Whose spirit with
divine ambition puffed
Makes mouths at
the invisible event,
Exposing what is
mortal and unsure
To all that
fortune, death and danger dare,
Even for an
egg-shell… Rightly to be great
Is not to stir
without great argument,
But greatly to
find quarrel in a straw
When honour’s at
the stake. […]»
William Shakespeare, Hamlet, Act IV, 4.
Subscrever:
Mensagens (Atom)